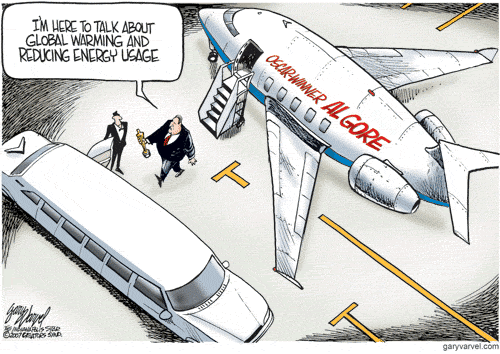The Bastiat Collection: Volume 1 e volume 2.
The Bastiat Collection: Volume 1 e volume 2.
«Liberté! Sauvons la liberté! La liberté sauvera le reste!» Victor Hugo.
31/08/2007
30/08/2007
28/08/2007
27/08/2007
Redemption songs
Old pirates, yes, they rob i; / Sold I to the merchant ships, / Minutes after they took i / From the bottomless pit. / But my hand was made strong / By the and of the almighty. / We forward in this generation / Triumphantly. / Wont you help to sing / These songs of freedom? cause all I ever / have:Redemption songs; / Redemption songs. / Emancipate yourselves from mental slavery; / None but ourselves can free our minds. / Have no fear for atomic energy, / cause none of them can stop the time. / How long shall they kill our prophets, / While we stand aside and look? ooh! / Some say its just a part of it: / Weve got to fulfil de book. / Wont you help to sing / These songs of freedom? / cause all I ever have: / Redemption songs; / Redemption songs; / Redemption songs. / Emancipate yourselves from mental slavery; / None but ourselves can free our mind. / Wo! have no fear for atomic energy, / cause none of them-a can-a stop-a the time. / How long shall they kill our prophets, / While we stand aside and look? Yes, some say its just a part of it: / Weve got to fulfil de book. / Wont you help to sing / Dese songs of freedom? / cause all I ever had: / All I ever had: / Redemption songs: / These songs of freedom, / Songs of freedom.
Via Protosophos.
26/08/2007
25/08/2007
My escape from slavery, Frederick Douglass.
“I suppose you have your free papers?”
To which I answered:
“No sir; I never carry my free papers to sea with me”.
“But you have something to show that you are a freeman, haven’t you?”
“Yes, sir,” I answered; “I have a paper with the American Eagle on it, and that will carry me around the world.”
» Retirado daqui: Collected articles of Frederick Douglass, a slave.
24/08/2007
Albert Jay Nock, forgotten man of the right

If a regime of complete economic freedom be established, social and political freedom will follow automatically; and until it is established neither social nor political freedom can exist. Here one comes in sight of the reason why the State will never tolerate the establishment of economic freedom. In a spirit of sheer conscious fraud, the State will at any time offer its people "'four freedoms", or six, or any number; but it will never let them have economic freedom. If it did, it would be signing its own death-warrant, for as Lenin pointed out, "it is nonsense to make any pretense of reconciling the State and liberty". Our economic system being what it is, and the State being what it is,all the mass verbiage about 'the free peoples' and 'the free democracies' is merely so much obscene buffoonery. Memoirs of a Superfluous Man, de Albert Jay Nock.
Dezenas de outros intelectuais e economistas, como Murray Rothbard, o próprio Frank Chodorov, conservadores como Willian Buckley, e, ainda, alguns pensadores paleoconservadores na época dos acontecimentos da Guerra Fria. O seu excelente livro, Memoirs of a Superfluous Man, pode ainda ser lido com grande prazer e como fonte de excelentes idéias. Tantos anos depois de ter sido escrito parece que o futuro que Nock previa para a liberdade não foi alcançado. Isso dá motivos a mais para que leiamos de novo seus escritos, e, partindo deles, adaptá-los à nossa realidade, que, na verdade, não está tão diferente da que ele vivia.
Para uma introdução ao seu pensamento, leia este completo ensaio Albert Jay Nock's Laws of Political Process, de Mark Sunwall. Este ensaio de Wendy McElroy (Nock on Education) também é um bom começo. Mas isto aqui é simplesmente fantástico.
Liberalismo, Progressismo, Colectivismo.

Veja este vídeo para entender as afirmativas abaixo.
1. Fugir da palavra liberal como o Diabo foge da Cruz — pois outrora quis dizer defensor das liberdades individuais e dos princípios constitucionais de laissez-faire;
2. Ter em consideração que liberal se tornou entretanto sinónimo de apoiante de um Estado grande, aquilo que o Partido Democrático tanto defende;
3. Cambalhota doublespeak: defender os fins ("liberalismo") e esquecer os meios (engenharias sociais de Estado);
4. Defender os princípios liberais clássicos. Defender liberdades "positivas". Defender colectivização da sociedade.
5. Propor um regresso às origens "progressistas", quando a palavra liberal começou a ser prostituida pelos socialistas americanos.
» Via Arte da Fuga.
23/08/2007
Sobre Fazer Algo Quanto a Isso
Essa incongruência inibiu minha curta paixão pelo anarquismo.Bakunin me perturbava especialmente. Sua urgência em "fazer algo quanto a isso" com bombas não me apeteceu, não porque eu fosse inclinado ao pacifismo, mas porque eu percebia que nenhum bem poderia advir da violência. O arremessador de bombas pode conseguir alguma mudança no governo com sua tática, mas poderia ele resistir à tentação de arremessar bombas? Ele não poderia usá-las para adquirir e exercer o poder por sua própria conta? Logo cedo eu desenvolvi um desgosto em relação a "fazer algo quanto a isso" — isto é, em relação à reorientação organizada e forçosa da sociedade rumo a uma imagem preferida por mim. Eu nunca fui um membro de carteirinha de nenhuma organização, me revolto com qualquer tentativa de canalizar meu pensamento e me oponho constitucionalmente à ação política.Eu gostaria, é claro, de ver a sociedade organizada de forma que o indivíduo fosse livre para seguir a sua própria "busca pela felicidade" como ele achasse apropriado e de acordo com suas próprias habilidades. Porque eu assumo que o indivíduo ao nascer é dotado do direito de fazer isso. Eu não posso negar esse direito aos outros homens sem implicar que eu mesmo o tenho, e isso eu não admitirei.
Eu reclamo para mim mesmo a prerrogativa de ficar bêbado e dormir jogado na sarjeta, com a condição, claro, de que eu não interfira no direito de meu vizinho de ir à ópera; essa é a minha forma (e a dele) de buscar a felicidade. Como pode uma terceira pessoa saber que ficar bêbado ou ir à ópera não é "bom" para qualquer um de nós? Ela, ou a sociedade, ou uma maioria, pode dizer que nós, meu vizinho e eu, temos os valores "errados" e tentar nos dizer isso, mas a imposição da força para nos fazer mudar de valores é injustificável; esse uso da coerção advém de uma presunção de onisciência, a qual não é uma qualidade humana. O melhor que a sociedade pode fazer nessas circunstâncias é se assegurar de que a forma pela qual o indivíduo busca a felicidade não interfira com a dos outros — e então nos deixar todos sozinhos.Essa é a forma como eu gostaria de ver a sociedade da qual sou parte organizada; mas ela não está organizada dessa forma e eu considero suas regras muito desagradáveis. Em primeiro lugar, ela instituiu um sistema de taxação pelo qual um terço de nossas rendas é confiscado; o tamanho desse confisco é a limitação ou a circunscrição da busca pela felicidade, pois não se pode gastar (em uísque ou ópera) o que não se tem. E então o gasto dessa vasta quantidade de dinheiro torna necessária uma burocracia de grandes proporções, e essa monstruosa burocracia, para justificar sua existência, dá grandes presentes a grupos favorecidos, que precisam se submeter a certas regulações e controles para consegui-los. Nossa busca pela felicidade é, assim, limitada — pelo nosso próprio "bem", para ser claro.Isso eu considero mau, perverso, infame e tudo o mais.
Assim, eu me proponho a "fazer algo quanto a isso". Mas como? Obviamente eu não posso fazer qualquer coisa para mudar nosso sistema por mim mesmo, embora eu possa, se eu pensar dessa forma, me recusar a pagar impostos e sofrer as conseqüências; as conseqüências são uma maior interferência em minha busca pela felicidade. Meu único recurso é me associar com pessoas que pensam de forma similar e ter esperanças de que nós possamos de alguma forma remover de nossos estatutos as leis de impostos. Para fazer isso, temos que ter um número considerável de mentes determinadas a fazer isso. Nós temos que vasculhar as matas em busca de convertidos para nossa causa, pois a maioria das pessoas está preocupada em viver da melhor forma aqui e agora do que em reescrever as regras da ordem social. Somente comparativamente poucos estão interessados numa reforma. Mas, com uma árdua busca e através da educação nós podemos reunir um bom número, suficiente para fazer sentir sua influência, que esteja convencido de que nossa idéia é sincera e que desejem aplicá-la ou morrer por ela. Entretanto, a estratégia tem que ser considerada. O padrão histórico para se fazer algo quanto a isso é confrontar o poder político com uma oposição organizada, a qual, novamente, é poder político. Embora a vingança seja considerada por essa direta colisão de forças, a história mostra que os princípios permanecem exatamente como eram antes da colisão.
E isso ocorre caso o conflito tome a forma de uma revolução violenta ou de uma batalha nas urnas. A razão desse resultado invariável é encontrado na técnica necessária da ação política; precisa haver um líder, pois sem ele um exército não passa de um aglomerado que se dispersa facilmente. Eu nomeio a mim mesmo para o trabalho, não por causa de quaisquer qualificações particulares que eu possa ter, mas porque de minha devoção à idéia me habilita a essa distinção. Bem, pois, sob a minha liderança nós conseguimos uma votação considerável — para mim e presumivelmente para minha idéia.Mas, embora até agora eu tenha sido um professor, um propagandista e um organizador, eu sou agora um legislador confrontado com o problema prático de fazer as leis. O parlamentarismo bloqueia meu caminho. E eu encontro condições e interesses que fazem com que a mudança da lei seja difícil. Eu vejo, por exemplo, que podersos grupos têm interesses na taxação; os veteranos são por ela, também o são os fazendeiros que vivem através de subsídios, da mesma forma que os industrialistas cujas operações estão atreladas às receitas governamentais, e os donos de papéis do governo são os mais vocais na oposição à minha idéia. Logo vejo que a política é a arte do possível e é simplesmente impossível mudar a estrutura de impostos do país. Assim, eu penso em concessões, consolando minha consciência com o pensamento de que as concessões são meramente temporárias e que quando as condições forem propícias, a taxação como um todo será abolida.
Além disso, eu sou humano e sucumbo à tentação de perpetuar minha posição de proeminência; os honorários do cargo são os mais sedutores e eu concordo em fazer concessões em troca da promessa de suporte da oposição.O caso de Robespierre vem à mente. Ele era, como todos sabem, um estudante e discípulo de Rousseau que se opunha completamente à pena capital. Contudo, quando chegou à hora de votar sobre a questão do regicídio, Robespierre foi a favor, acompanhando seu voto com um longo discurso explicativo no qual ele usava outra aberração de Rousseau — a Vontade Geral — para se justificar. A expediência o impeliu a virar Rousseau do avesso.As expediências da política combinadas com as fragilidades dos líderes políticos descartam a possibilidade de usar o método político para colocar o princípio dentro da lei. A ordem social precisa cuidar de si mesma; a política e a lei seguirão o que ditar a sociedade, uma vez que a sociedade saiba o que quer e aja como se quisesse. Portanto, para "fazer algo quanto a isso" é necessário se concentrar na sociedade e desconsiderar severamente a política; o que significa educação e mais educação e ignorar os políticos totalmente.
Como esse curso pode ocasionar uma genuína reforma se torna evidente quando nós consideramos a composição da máquina política conhecida como Estado.A fraqueza do Estado está no fato de que ele não é nada além de um agregado de humanos; sua força é derivada da ignorância geral desse truísmo. Desde muito tempo a cobertura dessa vulnerabilidade tem ocupado os talentos do político; todas as formas de argumentos foram aduzidas para dar ao Estado um caráter sobrehumano, e rituais sem fim foram inventados para dar a essa ficção a verossimilhança da realidade. A divindade com a qual o rei considerava necessário investir-se foi tomada pelo mítico cinqüenta e um por cento do eleitorado, que, por sua vez, dão ordens àqueles que os governam. Para ajudar no processo de canonização, os personagens nos quais o poder reside se separaram através de artifícios como títulos grandiloqüentes, trajes distintivos e medalhas hierárquicas. Os modos da língua e do comportamento — chamados de protocolo — enfatizam essa separação. No entanto, o fato da mortalidade não pode ser negado e a continuidade do poder político é fabricada por meio de símbolos que inspiram admiração, tais como bandeiras, tronos, monumentos, selos e laços; essas coisas não morrem.
Por meio de litanias a alma é sugada para dentro desse novilho de ouro e a filosofia política o unge como uma "pessoa metafísica".Luís XIV foi bastante literal quando ele disse "L'état c'est moi". O Estado é uma pessoa, ou várias pessoas, que exercem a força, ou a ameaça dela, para fazer com quem os outros façam o que de outra forma não fariam, ou para se absterem de satisfazer um desejo. A substância do Estado é o poder político, e o poder político é coerção exercida por pessoas sobre pessoas; o caráter sobrehumano assumido pelo Estado tem o propósito de esconder esse fato e induzir a subserviência. A força do Estado é sansônica e pode ser cortada pelo reconhecimento popular do fato de que só existe um Tom, um Dick e um Harry.Os anarquistas dizem que o Estado é perverso. Eles estão errados. O Estado são perversos. Não é um sistema que cria privilégios, são várias pessoas moralmente responsáveis que fazem isso. Um robô não pode declarar guerra e funcionários gerais não podem conduzir uma; o instrumento motivador é um homem chamado rei ou presidente, um homem chamado legislador, um homem chamado general. Identificando assim o comportamento político com as pessoas, nós evitamos a transferência da culpa para uma ficção amoral; nós colocamos a responsabilidade aonde ela pertence.
Tendo estabelecido em nossas mentes o fato de que o Estado é formado por um número de pessoas que não podem fazer bem algum, nós procedemos a tratá-las de acordo. Você não se curva perante um preguiçoso comum; por que você deveria reverenciar um burocrata? Se um político importante aluga um salão para fazer um discurso, fique longe; a ausência da audiência dará a ele uma dimensão de sua irrelevância. Os discursos e afirmações escritas de uma figura política são feitos para impressioná-lo com a importância dele, e se você não escutá-lo ou lê-lo você não será influenciado e ele desistirá. É o aplauso, a adulação que concedemos aos personagens políticos que registra a nossa consideração pelo poder que eles carregam; a deflação desse poder se dá na proporção de nossa desconsideração desses personagens. Sem uma platéia animada não há parada.O ostracismo social sozinho pode trazer até mesmo as maiores falsidades políticas ao seu nível moral. Aqueles cujo respeito próprio não decresceu até o ponto do desaparecimento sairão do campo político e encontrarão trabalhos honestos, enquanto que os degenerados que permanecerem terão que se adaptar ao que eles conseguirem pegar do público relutante. Abaixo da alta-cúpula política estão milhões de empregados que merecem mais piedade do que desprezo; você considera difícil desprezar o homem cuja incompetência o força à sarjeta pública.
Contudo, se você assumir a atitude "pobre John" em relação a ele, você o lembra continuamente de um padrão mais alto e pode salvá-lo da própria degeneração.Um prédio do governo você considera como um mausoléu; você entra neles somente sob ameaça e não se diminui a ponto de admirar suas estátuas vivas ou mortas. As estrelas nos ombros do general significam que o homem pode ter sido um membro útil da sociedade; você tem pena do garoto cujo uniforme identifica sua servidão. O trono sobre o qual o juiz se senta eleva o corpo mas rebaixa o homem, e uma sala de jurados é um lugar onde escravos a três-dólares-por-dia executam as leis da escravidão. Você honra o evasor de impostos e respeita o homem honorável o suficiente para desafiar a lei.O poder social reside em todo indivíduo. Assim como você coloca a responsabilidade social no comportamento político, você precisa assumir responsabilidade pessoal pelo comportamento social. Você despreza o legislador Brown não porque ele violou um princípio da Tax Reform Society [N.T.: algo como "Sociedade pela Reforma do Sistema Tributário"], à qual você pertence, mas porque seu voto pela arrecadação de impostos é, em sua estimativa, um ato de roubo. Não é uma sociedade de paz que julga o fazedor de guerras, é o pacifista individual.
Todos os valores são pessoais. A boa sociedade que você visiona pelo declínio do Estado é uma sociedade na qual você é parte integral; sua campanha é, portanto, uma obrigação pessoal.Você é inefetivo sozinho? Você precisa de uma organização para lhe ajudar? Somente indivíduos pensam, sentem e agem; a organização serve apenas como uma máscara para aqueles incapazes de pensar ou que não desejam agir de acordo com suas próprias convicções. No final, toda organização vicia o ideal que primeiro atraiu seus membros, e quanto mais numerosos os associados, mais certo esse resultado; isso ocorre porque o ideal organizacional é uma concessão dos valores privados e, num esforço para encontrar uma concessão possível, o denominador comum mais baixo, enquanto o número de associados cresce, se torna o ideal. Quando você fala por você mesmo, você é forte. A potência do poder social é proporcional ao número daqueles de mentalidade parecida, mas essa é uma questão de educação, não de organização.Portanto, vamos tentar o ostracismo social da política e dos políticos. Deve funcionar. A reforma através da política somente fortalece o Estado.
» Esta é a tradução do Capítulo X da autobiografia de Frank Chodorov, Out of Step (1962). [LibertyZine].
Socialismo Voluntário e Anarco-Capitalismo
 # Proudhon, um socialista, sentava ao lado de Bastiat, um liberal, na Assembléia francesa. Ao responder a um artigo de Bastiat chamado "Capital et Rente" [NOTA: Capital e Interesse], Proudhon inciou o que se tornaria um debate público entre os dois que durou 14 cartas. Aqui voce encontra algumas cartas de Proudhon, aqui voce encontra o artigo de Bastiat.
# Proudhon, um socialista, sentava ao lado de Bastiat, um liberal, na Assembléia francesa. Ao responder a um artigo de Bastiat chamado "Capital et Rente" [NOTA: Capital e Interesse], Proudhon inciou o que se tornaria um debate público entre os dois que durou 14 cartas. Aqui voce encontra algumas cartas de Proudhon, aqui voce encontra o artigo de Bastiat. # Molinari fazia parte da Ligue pour la Liberté des Échanges junto com Bastiat. Ele é o pai de todos os anarco-capitalistas com seu tratado "Da produção da segurança" de 1849 (tradução do libertyzine aqui), o qual defende a livre concorrência de agências de segurança privada no mercado. O mesmo Molinari escreveu uma carta aberta para socialistas perguntando porque esses não se juntavam aos defensores do livre comércio (link para a tradução do libertyznie aqui).
# Tandy era um socialista que defendeu agências privadas de segurança em seu livro "Voluntary Socialism" (pode conferir) de 1896. Ele era próximo a Tucker, que organizava o jornal Liberty; o qual reunia anarquistas socialistas e anti-capitalistas. Molinari escreveu uma carta elogiando o Liberty, o jornal escreveu um artigo sobre o livro de Molinari.
# Tucker era um anarquista anti-capitalista e pró-mercado. Era leitor de Proudhon e escreveu um artigo sobre as diferenças entre o socialismo de estado e o anarquismo, o socialismo libertário. (mais um tradução do LibertyZine aqui).
# Oppenheimer era um socialista que escreveu sobre a teoria da exploração de uma classe sobre outra. Ele chegou a conclusão de que tal exploração se dava por meios políticos.
# Hoppe é um anarco-capitalista que criticou a teoria da exploração de Marx, um socialista, porque esta não percebia que a exploração era praticada exclusivamente por meios políticos. Hoppe concorda com a análise austríaca da exploração, a qual concorda com o socialista Oppenheimer. (LibertyZine, de novo).
Outra teoria de como a guerra entre classes ocorre por meios políticos foi desenvolvida por Samuel E. Konkin (link aqui), e sua teoria foi retirada na análise de Rothbard, um anarco-capitalista.
#Kevin Carson é um mutualista moderno (o que significa que voltamos a Proudhon e Tucker) que desenvolveu um síntese das teorias de valor dos clássicos, incluindo o socialista Marx, e dos austríacos, incluindo o capitalista Mises. Algo como tal síntese pode ser encontrada em Tandy (não acredita? pode conferir).
Boa parte das fontes usadas por Carson foram retiradas de notas de rodapé de livros de Noam Chomsky, um socialista anarco-sindicalista. Ele também defende uma teoria da exploração que é a mesma de Oppenheimer, que é a mesma de Rothbard, que é a mesma de Hoppe.
Então, por que diabos todo esse medo em olhar para o outro lado da cerca?
» Via Social Tactics.
Entrevista com Murray Rothbard (Excerto)
 Pergunta: Alguns libertários recomendaram atividades pelo anti-voto durante a eleição de 1972. Você concorda com esta tática?
Pergunta: Alguns libertários recomendaram atividades pelo anti-voto durante a eleição de 1972. Você concorda com esta tática? Murray Rothbard: Eu quero falar sobre isso. Esta é a posição anarquista clássica, sem dúvida. A posição anarquista clássica é que ninguém deveria votar, porque se você vota, está participando do aparato estatal. Ou se você votar, que escrevesse seu próprio nome (anulando, assim, o voto). Eu não vejo nada errado nesta tática se, por exemplo, houvesse um movimento de proporção nacional – se seis milhões de pessoas, vamos dizer, estivessem engajadas em não votar. Eu acho que seria de muita utilidade. Por outro lado, eu não acredito que votar seja o problema real. Eu não acho que seja imoral votar, em contraste com os defensores da abstenção nas eleições.
Lysander Spooner, o santo padroeiro do anarquismo individualista, atacava esta idéia de maneira muito eficiente. A coisa é, se você realmente acredita que ao votar você está dando sanção ao estado, então você enxerga que está adotando a posição do teorista democrata. Você estaria adotando a posição do inimigo democrático, por assim dizer, que diz que o estado é realmente voluntário porque as massas estão o apoiando ao participar das eleições. Em outras palavras, você está do outro lado da moeda, do lado que apóia a política da democracia – que o público está realmente por trás dele e que é tudo voluntário. E então, os defensores da abstenção estão dizendo a mesma coisa.
Eu não penso que isto seja verdade, porque como Spooner disse, as pessoas estão sendo colocadas numa posição de coerção. Elas estão cercadas por um sistema coercitivo; elas estão cercadas pelo estado. O estado, entretanto, permite que você tenha uma escolha limitada – não há dúvidas a respeito do fato de que a escolha é limitada. Uma vez que você está nesta situação coercitiva, não há razão para que você não devesse tentar usar a seu favor, se você acha que pode fazer alguma diferença a sua liberdade ou posses. Então, ao votar você não pode dizer que esta é uma escolha moral, uma escolha plenamente voluntária, por parte do público. Não é uma situação plenamente voluntária. É uma situação onde você está cercado pelo estado, o qual você não pode votar pela não existência. Por exemplo, nós não podemos votar pelo fim da Presidência – infelizmente, seria ótimo se pudéssemos – mas desde que não podemos, por que não fazer uso do voto se há uma diferença que seja entre duas pessoas. E é quase inevitável que haja alguma diferença, incidentalmente, porque praxeologicamente ou num sentido da lei natural, cada duas pessoas ou cada dois grupos de suas pessoas serão ligeiramente diferentes, no mínimo. Então, nesse caso, por que não fazer uso dele? Não vejo que seja imoral participar na eleição uma vez que você vá com dois olhos abertos – uma vez que você não pense que Nixon ou Muskie seja o último grande libertário desde Richard Cobden! – o que muitas pessoas dizem a si mesmas antes de sair para votar.
A segunda parte da minha resposta é que eu não penso acho que votar é realmente a questão. Eu não me importo se as pessoas votam ou não. Para mim, o ponto principal é quem você apóia. Quem você espera que vença a eleição? Você pode ser um não-votante e dizer “Não quero sancionar o estado” e não votar, mas na noite da eleição quem você espera que o resto dos eleitores, o resto dos otários lá fora que estão votando, quem você espera que eles elejam. E isto é importante, porque eu acho que há diferença. A presidência, infelizmente, é de extrema importância. Ela vai governar ou dirigir nossas vidas muito extensamente por quatro anos. Então, eu não vejo razão para que não endossemos, ou apoiemos, ou ataquemos um candidato mais que outro. Eu não acredito mesmo com a posição contra o voto neste sentido, porque o não-votante não está só dizendo que não devemos votar: ele também está dizendo que nós não devemos endossar ninguém. Por acaso Robert LeFevre, uma das vozes da abordagem contra o voto, por acaso ele não terá nenhum tipo de preferência no fundo do seu coração, a medida em que os votos são contados na noite de eleição? Ele comemorará ligeiramente ou lamentará mais com quem quer que vença? Eu não vejo como alguém poderia não ter uma preferência, porque isto nos afeta a todos nós.
» Via Social Tactics.
Um pouco de Friedman

Seus feitos constituíram o produto de seu gênio individual, de um ponto de vista minoritário corajosamente mantido, de um clima social que permitia a variedade e a diversidade. O governo não poderá jamais imitar a variedade e a diversidade da ação humana.
A qualquer momento, por meio da imposição de padrões uniformes de habitação, nutrição ou vestuário, o governo poderá sem dúvida alguma melhorar o nível de vida de muitos indivíduos; por meio da imposição de padrões uniformes de organização escolar, construção de estradas ou assistência sanitária, o governo central poderá sem dúvida alguma melhorar o nível de desempenho em inúmeras áreas locais, e, talvez, na maior parte das comunidades. Mas, durante o processo, o governo substituirá progresso por estagnação e colocará a mediocridade uniforme em lugar da variedade essencial para a experimentação que pode trazer os atrasados do amanhã por cima da média de hoje.
» Milton Friedman em seu clássico Capitalismo e Liberdade.
22/08/2007
Contra quem esta guerra realmente é?

Pela perspectiva utilitária a resposta seria baseada em que quem consome tais tipos de substâncias afeta não apenas a si próprio, mas todos aqueles que te rodeiam (de maneira indireta), sem a sua concordância expressa. Sua ação auto-destrutiva também assim o seria em relação aos seus pais, irmãos, etc, que sofreriam por esta sua conduta. Indiretamente, estas leis seriam justificadas em virtude daqueles que vendem estas substancias, financiam diretamente diversas outras atividades ilegais com a venda destas substâncias, como o trafico ilegal de armas, pessoas, roubo, etc. Assim, reprime-se a droga em duas perspectivas: numa de caráter pessoal e numa outra de caráter mais geral coletivo.
Pela ótica liberal, acredita-se que o uso de droga diz respeito ao indivíduo, nunca ao governo ou Estado, muito menos a políticas publicas patrocinadas com o seu próprio dinheiro. O liberalismo, da forma como eu o entendo, como filosofia política, não faz juízo de valor, mas de fato, ou seja, apenas estabelece parâmetros à averiguação de lesões a direitos individuais. Como expressa bem Rothbard:
O credo libertário repousa sobre um axioma central: que nenhum homem ou grupo de homens pode ter o direito de agredir uma pessoa ou sua propriedade. Isto pode ser chamado de axioma de não agressão. Agressão, por outro lado, é definida como a iniciação do uso, ou a ameaça de violência física contra qualquer pessoa ou contra a sua propriedade. Agressão é consequentemente sinônimo de invasão. [Link]Entretanto, esta é uma posição difícil de ser sustentada à primeira vista, haja vista ser um contra-senso, como o observado pela perspectiva utilitária, pois minhas ações sempre têm repercussões externas, que não sei quais são ou mesmo que não tenho possibilidade de prevê-las. Nesse sentido calcam muitos liberais a sua posição a respeito do uso de droga e da proibição da mesma em detrimento da venda livre e restrita apenas aos adultos.
Entretanto, esta posição utilitária repousa em uma falácia completa, que, se for exposta, demonstrará que a perspectiva liberal (e de todas as suas conseqüências) é a mais plausível e satisfatória, tanto para o indivíduo bem como para a sociedade como um todo.
A falácia central da teoria utilitarista, que é a mais utilizada por sinal (pois é a que da mais vazão às conhecidas liberdades positivas, o que contribui de modo direito ao inchaço do Estado na sociedade em detrimento do indivíduo), é que se for levada às ultimas conseqüências lesará todos de uma fora muito pior do que aquela que permite alguém individualmente usar destas substancias sem a ação do Estado para impedi-lo. Veja. Uma teoria para ser válida deve ser levada às ultimas conseqüências em todos os seus argumentos e não fugir a essência de seu argumento central que lhe serve de fundamento. Do contrario, será mais uma teoria sem sentido algum, pois apenas serve de utilidade a condições genéricas e previamente estabelecidas, o que nunca ocorre no mundo real.
A teoria utilitária, como se sabe, repousa, basicamente, no argumento da felicidade geral, de modo que uma ação somente é boa no sentido de quando trás felicidade ao maior numero de pessoas. Assim, as drogas seriam proibidas não para a manutenção da saúde individual, mas para um para o bem comum maior.
Muito bom até agora, mas será que em todos os aspectos desta teoria seriam válidos se levados às ultimas conseqüências? (digo de passagem que para mim em nenhum momento os são). A meu ver não, pois se dez pessoas com fome quisessem assassinar e depois assar uma outra pessoa para comê-la no caso daqueles estarem como fome não retira o direito daquela pessoa em permanecer com vida (parece fora da realidade, mas imagine essa situação: Imigrantes ilegais da República Dominicana tiveram de comer a carne dos companheiros de viagem mortos para garantir sobrevivência enquanto o barco em que tentavam chegar a Porto Rico estava à deriva – Leia a noticia aqui).
Ou seja, o direito desta em permanecer com vida transcende toda e qualquer tentativa em contrario. O seu direito à vida é natural, inquestionável e imutável. Querendo ou não, esta pessoa pode e tem o dever de reagir em legítima defesa contra aqueles agressores. Será que eles poderiam retirar a vida de uma pessoa para se alimentarem? Claro que não.
Por outro lado, entretanto, pelo lado utilitarista, ela nada poderia fazer. Teria que se sujeitar a vontade dos demais. Assim exposto, o argumento utilitarista faria com que ninguém em sã consciência defendesse esta perspectiva. Mas, de modo, implícito, é ela que serve de vetor às mais variadas leis: de regulação econômica, de conceder isto ou aquilo para A ou B, como no caso da redistribuição de renda, ou mesmo no caso da legislação anti-drogas. No caso brasileiro, pois é o que mais tenho contato, nossa lei, de certa maneira, despenalizou o seu uso, mas não descriminalizou a sua conduta. Mas isso apenas basta? A meu ver a teoria liberal pode isso explicar.
E pode da seguinte maneira. Cada individuo é soberano da sua vida. Isso demonstra que, se não existe agressão direta da sua pessoa contra a minha própria pessoa ou minha propriedade, por mais que desta conduta discorde (como pessoalmente faço), nada poderei fazer, legitimamente, que impeça esta sua ação. Os conhecidos crimes sem vítimas ilustram essa situação. Da mesma forma que proíbem a venda livre de droga, deveriam proibir e combater no rigor da “lei” todas as outras condutas que não lesam diretamente mais ninguém, senão aqueles mesmos que a praticam de modo voluntário. A tatuagem poderia ser um exemplo, pois a tatuagem é uma modificação radical no corpo, passível, como qualquer outra atividade com o mesmo fim, a riscos e enormes possibilidades do contágio com diversas doenças.
Nesta perspectiva a tatuagem deveria ser proibida, como a venda de drogas.
Mas e quanto àquelas possíveis agressões indiretas que tanto nos falam os utilitaristas como argumento contra a venda livre de drogas, que dela sempre decorrem? Numa sociedade completamente livre, onde as liberdades são garantidas de forma plena, não haveria uma agressão indireta, pois a mesma deixaria de ser agressão, pois somente são consideradas como atos ilícitos as agressões diretas, contra a mim ou à minha propriedade. Mas e no caso do dinheiro arrecadado com a venda de droga ser usado para outras atividades ilícitas diretas, como roubo ou assassinato, por exemplo?
Neste caso, seriam punidas como ações diretas à minha pessoa ou minha propriedade. Pensar o contrário seria estabelecer, de modo retroativo, toda ação como sendo criminosa se no final existe um crime. Assim, se uma pessoa compra uma arma, almoça, dorme em sua casa, vê televisão, sai e comete um roubo, haveria também de se considerar como crime o fato dela ter almoçado e visto um programa de televisão! Um contra senso absurdo. Cada ato deve ser pensado isoladamente, de modo a punir somente aquelas condutas que são em si um crime em si mesmo (uso de violência), e não aquelas que não são crimes de modo direto (onde não há uma agressão). Juntar tudo num argumento só, a venda de drogas e violência, não tem o menor senso lógico para proibição de venda daquela. A partir do momento que existe uma legislação proibindo a venda de drogas, por outro lado, o resultado leva inevitavelmente ao aumento da violência.
Primeiro pelo fato do custo da produção ser elevado, dado ao seu risco, tendo o consumidor que pagar um preço muito mais alto do que o estabelecido entre diversos vendedores. São exemplos claros de monopólios forçados pela ação estatal. Ainda, some-se ao fato do risco dos outros concorrentes. Neste ramo sabemos o que acontece com os envolvidos. Morrem todos jovens. A isso se dá, literalmente, pela necessidade de eliminar a concorrência, pois ninguém sabe quem amanhã será o vendedor. A nossa legislação, excetuado o caso de trafico, não pune com detenção ou reclusão o usuário destas substancias. Um avanço, mas não muito. O ideal seria a liberação ampla e total, pelos fatos expostos e das conseqüências que deles deduzimos.
Agora uma explicação. Muitas vezes somos levados pelo equivoco das pessoas a nos considerarem como apologistas do uso de drogas, e tudo o mais que daí decorre. Nada está mais longe da verdade do que essas afirmações. Não acredito que o uso de drogas seja bom, saudável ou mesmo interessante. Repudio o seu uso como qualquer outra pessoa de bem. Mas ainda penso que muito maior que os danos causados pela sua proibição são aqueles que decorrem da não possibilidade de uma pessoa satisfazer seus desejos de uma forma livre e não agressiva.
Vícios, como diria Lysander Spooner, não são crimes. Crimes partem da coação, coação essa que, na maioria dos casos, vem sempre do Estado em tentar manter o bem comum.
Marcas e Patentes
Abrindo mais a questão, e em relação à marcas e patentes? É possível defender essas proteções ou elas implicam em violações de direitos?
Eu penso que marcas podem ser defendidas sim. Se A tenta se passar por B para que consiga vender algo a C, o que A está fazendo é fraude, e isso pode sim ser colocado dentro da classificação de agressão (e é, portanto, uma vioalção de direitos que deve ser punida). Isso é o suficiente para defender a "propriedade" sobre marcas e outros direitos autorais.
E em relação a patentes? Para mim a questão ainda é mais fácil, patentes são indefensáveis. A categoria de patentes tem uma definição diferente mesmo dentro do que se chama de "propriedade intelectual" na legislação estatista. Patentes são, por definição, privilégios monopolísticos garantidos pelo governo como um incentivo à inovação. A idéia da patente é a de que agentes no mercado estariam mais icentivados a inovar caso tivessem a segurança de desfrutar sobre o monopólio de produção da inovação por um determinado tempo arbitrário*.
A primeira pergunta é, barreiras à livre entrada no mercado mantidas pelo uso da força (ou seja, monopólios) são justificáveis? Eu penso que para o possível leitor deste blog a resposta a essa pergunta seja negativa, o uso da força é uma violação de direitos e, portanto, injustificável. A garantia que empresas procuram na legislação de patentes significa ganhos privados com dinheiro público.
Mas outra pergunta que se pode fazer é a seguinte: mesmo em termos pragmáticos (mesmo que se "esqueça" momentaneamente que patentes são privilégios monopolísticos injustificáveis e que se tente tratar a questão dentro de um ótica estritamente prática da coisa), as patentes são necessárias para estimular a inovação? Eu penso que não.
Para começar, a inovação é sempre desejada dentro de um mercado competitivo livre. E a liberdade de mercado é um dos maiores incentivos para espírito empreendedor, para a criatividade e inovação. É possível dizer que em muito casos a própria competição obriga a inovação no setor. O que a patente realmente faz é extender a vantagem de se ter uma inovação lucrativa além do tempo natural em que tal inovação representaria uma vantagem dentro de um mercado livre. Olhar os outros casos de "propriedade intelectual"** não patenteáveis (obras de arte e ciência, etc) também nos leva a exemplos de como o maior incentivo à inovação é o próprio fato de inovar e criar!
Historicamente falando, sempre houveram motivos para inovar, mesmo antes das guildas de ofício mercantilistas inventarem as patentes. Um segundo ponto é que existem mesmo alguns casos em que as patentes não só não servem como estímulo para a inovação, como inibem a mesma. Alguns desse exemplos são dados nesse trecho do "Studies in The Mutualist Political Economy" de Kevin Carson.
**As aspas se devem ao fato de eu pressupor que haja discordância sobre a própria validade da expressão "propriedade intelectual". Eu pessoalmente acredito que não seja possível falar em propriedade intelectual, mas reconheço que esse é um ponto polêmico.
Liberais e liberalismo

O que nos pode levar a classificar como liberais homens tão diferentes entre si como Luís de Molina, Juan de Mariana, Adam Smith, John Locke, David Hume, Edmund Burke, Alexandre Herculano, Tocqueville, Acton, Jouvenel, Mises, Hayek, Popper, Rothbard, etc.?
Certamente que não pensavam todos o mesmo e que tinham até opiniões muito distintas sobre questões importantes. Certamente que nem todos se consideravam e respeitavam, tanto pessoalmente como em relação às suas obras e às suas convicções. Basta dizer, a título de exemplo, que Rothbard considerava Adam Smith, o fundador da economia moderna, um inqualificável burlão, a quem acusava de ter copiado de outros a maior parte das ideias que o notabilizaram. Uns eram crentes, outros agnósticos e alguns ateus.
A resposta prende-se com alguns aspectos comuns que os unem: a defesa da individualidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da propriedade privada, da liberdade de escolha maximizada até ao limite da liberdade alheia, de entidades mediadoras dos direitos individuais instituídas pela convivência social e pela tradição, da liberdade contratual, do mínimo intervencionismo das entidades públicas, no limite, do Estado. Todos estes autores têm uma profunda admiração pela liberdade, que genericamente entendem como a menor coação possível exercida sobre os indivíduos, de modo a permitir-lhes o maior espectro possível de escolhas de vida não condicionadas. E todos eles têm uma enorme desconfiança dos poderes públicos, do Estado e das instituições governativas. Preferem, sempre, que uma decisão possa ser tomada com a máxima liberdade possível, sem intervenção pública, por parte daqueles a quem respeita: os indivíduos.
Os fundamentos da liberdade são, para eles, também muito diversos. Mas, em regra, todos defendem o estado de liberdade como o que é natural ao ser humano, e o que possui uma superioridade moral e ética em relação aos demais tipos de ordenação social. Todos os liberais são, à sua maneira, moralistas, ainda que uns encontrem a origem da moral em Deus, outros na ordenação espontânea das suas regras, outros ainda na razão ou nos sentimentos e nas emoções. Todavia, todos consideram que um quadro de máxima liberdade individual só é concebível num modelo social de responsabilização individual, enquadrada por regras morais objectivas. As «regras de justa conduta», como lhes chamou Hayek, que, por sua vez, hão-de fundamentar as normas jurídicas que dirimam os seus conflitos.
As derivações decorrentes de cada uma das suas posições são, naturalmente, imensas. Por isso, há muito espaço no liberalismo e liberais (quase) para todos os gosto, sem que daí se incorra em relativismo: os valores fundamentais do liberalismo são muito claros e resistem a quaisquer outras dissenções. E, numa altura em que a liberdade é todos os dias diminuída, bem necessários são.
» Rui A., em Liberais e liberalismo.
21/08/2007
Copyrights como contratos

Propriedade intelectual não é um tipo de propriedade. Se A vende um CD para B, a propriedade não é mais de A, mas de B. B, conseqüentemente, não tem nenhuma obrigação para com A.
Porém, suponha-se que A grave uma sua música num CD. A dará o disco para B sob algumas condições: (1) que B não reproduza sua música em um espaço público sem sua autorização; (2) que B não copie a música para o computador e a distribua pela internet; (3) que B não faça cópias do CD. Se B se comprometer a cumprir as cláusulas 1, 2 e 3, A lhe dará o disco. Se não, não dará.
Se B aceitou as cláusulas impostas, estabeleceu-se um tipo de propriedade intelectual.Estritamente falando, no entanto, ela não é uma propriedade, mas sim um contrato. Ninguém pode ser contra esse tipo de propriedade intelectual sem negar qualquer tipo de obrigação contratual.
» Via ContraPolics.
The Income Tax: Root of All Evil
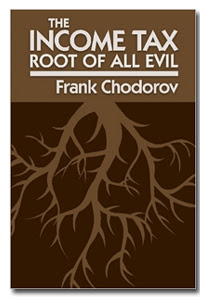
Early in the socialistic New Deal, its leaders recognized in the division of authority between state and federal governments a difficult impediment to their plans. They set their minds on overcoming it. They went so far as to draw up a blueprint for an arrangement that would circumvent, if not obliterate, the troublesome state lines. In 1940, Mr. Roosevelt’s National Resources Committee, in a report called Regional Factors in National Planning, proposed that the nation be divided into a dozen regional areas, as a basis for the coordination of federal administrative services. Recognizing that what they proposed was actually violative of the Constitution, they hastened to give assurance: the regional system, they said, "should not be considered a new form of sovereignty, not even in embryo." It would have been foolish to say anything else, since the consolidation of the states into a national unit requires, under the Constitution, the joint action of Congress and the state legislatures. Nevertheless, the report was a bid for a nationalized system, pure and simple. The committee insisted that so long as the "division of constitutional powers remained," the government is handicapped in handling "national problems." In those days the inspired propaganda insisted that the states were "finished."
Thus, the collectivists are on record as to their tactical campaign: the separate states must be wiped out or reduced to parish status. Later, they veered from a direct frontal attack on our traditional system, and went in for liquidation of state autonomy by bribery of state officials.
When you dig down to the psychology of our States’ Rights tradition you see the soundness of the collectivists’ tactics. The legal difficulties that the division of authority presents is not their main trouble; these can be circumvented by new laws, political deals, and judicial interpretations.1 The real obstacle is the psychological resistance to centralization that the States’ Rights tradition fosters. The citizen of divided allegiance cannot be reduced to subservience; if he is in the habit of serving two political gods he cannot be dominated by either one.
History supports the argument. No political authority ever achieved absolutism until the people were deprived of a choice of loyalties. It was because the early Christians put God above Caesar that they were persecuted, even though they paid homage and taxes to the established political establishment. Stalin’s liquidation of the religious and fraternal orders followed from his basic premise that the Soviet was the only deity. Mussolini was always bothered by the hold the Catholic Church had on the people, and Stalin would never have been Stalin if he had not brought the orthodox church to foot. And so, if the Californian thinks of himself as a Californian as well as an American and has two flags to support his contention, the central authority rests on shifting ground.
In no country where centralism got going did the regime have to contend with divided authority such as our Constitution provides. Long before Hitler came on the scene, Bismarck had liquidated the autonomous German states. Mussolini’s march on Rome would not have gotten started in the nineteenth century when Italy was an aggregation of independent units. And, of course, the Czars handed Lenin a thoroughly centralized government.
In this country, the advocates of centralism have had hard going because of our entrenched tradition of States Rights. It is a tradition that is older than the Constitution, older than the Revolution. It is a national birthmark.
The people of the recently liberated British colonies had had their fill of unlimited government. If they were going to have any national government at all it would have to be quite different from the one they had kicked out. They would put their trust in a government of neighbors, for that kind of establishment could be watched and handled. They were for Union, of course, for by Union they had done away with the foreign tyrant, and they wanted something that would correct the imperfections in the Union they had. They sent delegates to the Philadelphia Convention to correct these imperfections. But they did not want Union at the cost of government resembling in the least that which they had discarded.
When the Convention came out with a brand-new Constitution, not improved Articles of Confederation, as expected, the people were suspicious of it. Ratification of the Constitution came hard, and was not effected without some sharp political practices. In the antiratification literature of the day, long buried by federalist historians, the main theme was that the proposed government might intervene in local affairs and in their private affairs. Their touchiness on that point is reflected in the very composition of the Constitution. The Founding Fathers were very careful to make clear that the new federal government would have certain specified powers, and nothing more.3 Whatever powers were not enumerated in the Constitution would remain with the states. No other kind of Constitution could have got by.
One must go to pre-Revolutionary history for the legal origins of States’ Rights, but it is sufficient for the present argument to show that it is an essential Americanism, a bit of folklore learned at the nation’s cradles. Both the Founding Fathers and the opponents of the Constitution were agreed on the principle of divided authority as a safeguard of the rights of the individual. No one (except a few monarchists) questioned that. The only question was whether the separation was definite enough. It is unfortunate that the doctrine of States’ Rights has become sullied with sectionalism and racism, and its original meaning lost in the bitterness of other issues. Perhaps the name should be dropped in favor of "home rule"; but the essential point, that divided authority is the bulwark of freedom, is still sound Americanism, and ought to be exploited to the full. It can be invoked in a fight to repeal the Sixteenth Amendment.
But why is the case of freedom stronger when the autonomy of the states is inviolate? There is no vice in the national government that cannot be duplicated in the government of a subdivision; even county sheriffs have been known to take liberties with the rights of citizens. If we were living in forty-eight separate nations our lot, as individuals, might be worse; it probably would. Some people, using Switzerland as example, maintain that the smaller the nation the more freedom. But the Central American dictatorships refute that argument. The characteristic of the Swiss government that is often overlooked is the division of authority between the federal establishments and the cantons. That is the essential ingredient: only when the central authority is kept off balance by competition from autonomous subdivisions are the rights of citizens more secure.
Freedom is the absence of restraint. Government cannot give freedom, it can only take it away. The more power the government exercises the less freedom will the people enjoy. And when government has a monopoly of power the people have no freedom. That is the definition of absolutism-monopoly of power.
The object of monopoly, in any field, is to compel the customer to accept the services offered by the monopolist at his own terms. It is a take-it-or-leave-it arrangement. Competition, on the other hand, compels the servicer to meet the standards set by his competitors, with the customer the final judge as to proficiency. The beneficiary of competition is the buyer. In the matter of government services-which is the protection of life and property-the customer is the citizen.4 The government will serve him best only if it cannot set its own standards, when it does not enjoy a complete monopoly of power.
This brings up a contradiction. The theory is that government must have a monopoly of coercion to prevent us from using coercion indiscriminately on one another; we institute government, and endow it with sole police power, for the purpose of maintaining order. Nevertheless, experience has shown that the monopoly we give government can work for disorder; the power can be used to create disharmony and promote injustice. That, in fact is the record. Throughout history, those to whom the job of rulership has fallen, whether by heredity or popular selection, have shown a tendency to use their position to dominate, not serve, the ruled. Hence, unless the monopoly of power can be checkmated, freedom is always in danger.
Recognition of that fact gave rise to the idea of constitutional government, with limited powers. And as further restraint on government, popular suffrage was instituted. The vote is presumed to keep the government from getting out of hand; the threat of being turned out at the next election is supposed to hold down the arrogance and ambition of those in whom the power is vested. However, during its incumbency the elected government does enjoy a monopoly position, and it can use that position to solidify, enlarge upon, and perpetuate its power; it can even use the citizens’ tax money to "buy up" the next election, either by bribery or by propaganda.
Popular suffrage is in itself no guarantee of freedom. People can vote themselves into slavery. The only way, then, to prevent the monopoly of power from becoming absolute is to create a competitive market for government; to give the citizens, the customers, a choice of jurisdiction. That is exactly what our peculiar American system of divided authority, between states and federal government, accomplished. The Constitution, as originally conceived, set up independent nations within an independent nation-imperium in imperio-each with delimited powers. In that way, it was hoped, the polarization of power that undermines freedom would be prevented. The central government was given certain specified chores to do; it could not intervene in local affairs, unless the state governments were not able to maintain order. If the state government got rough with its customers, they could easily transfer their allegiance to another state.
This division of powers established the nearest thing to competition in government the world has ever known. As long as it held up, or until the federal government invaded the state lines (though the powers it acquired under the Sixteenth Amendment), the American citizen was as free as it is possible to be in organized society. Except with excise taxes, or during war, the central government never annoyed him. Sometimes the state governments went in for political innovations, including socialism, that violated his freedom. But they did not get far with these schemes, simply because the citizen could march off to a state more to his liking, or immigration from other states was discouraged; no government likes to lose taxpayers.
Thus, before the Prohibition Amendment, several states and localities went in for this kind of sumptuary legislation. This was indeed an invasion of individual rights, but it never amounted to much more than a nuisance. There was no monopoly of power behind it. The citizen could and did import liquor from contiguous territory, or manufactured his own. Until the prohibitory power was monopolized by the federal government, so that escape was fraught with danger, the individual’s right to make a drunken fool of himself was not effectively infringed by state laws.
From the very beginning the states had the power to impose income taxes and a number of them exercised it. None of these states ever went as far as the federal government has gone, and for obvious reasons. In the first place, the neighborly relations between local tax collectors and taxpayers made for evasion of this infringement of property rights; the state governments could not import "foreigners" from Washington to do the unpleasant work. Then, the local politician is more sensitive to the likelihood of retribution at the polls than is the national politician, and he knows that nothing will stir up the people more violently than excessive taxation. Most important is the fact that, other things being equal, capital, without which production is impossible, is attracted to areas where low tax rates obtain; it was regular practice, before the Sixteenth Amendment, for chambers of commerce to advertise the freedom from income taxes in their states as an enticement to industry, and it was not unusual for men of means to migrate to those states that did not tax inheritances. Running away from taxes is an ancient custom, and no state government wants to see its area depopulated. For these reasons some of the states dropped their income taxes, and none of them went in for oppressive rates.
Sometimes it is urged that we federalize our divorce laws, which would indeed be an invasion of our personal lives. So long as there are different legal jurisdictions covering divorce, the morality of it is left where it should be, in the conscience of the parties involved. A federal law would not prevent the breaking of conjugal ties, but if it were stringent enough it would certainly encourage the practice of living together out of wedlock, with a consequent increase of illegitimacy. Thus, immorality would be multiplied, as every law to eradicate it does. The more affluent would migrate to other countries to effect their purpose. More important, from the viewpoint of freedom, a federal law would put upon us another flock of enforcement agents, snoopers, and bribe takers.
Right now there is an urgency to have the federal government eradicate by forcible means the stupidity of racial and religious bigotry, particularly in employment practices. This is another example of the fatuous undertaking to make men "good" by law-the socialistic program. It cannot be done. A "fair employment practices" law can only result in intensifying bigotry, by concentrating attention on it. A New York State law of that kind has done nothing more than stimulate the ingenuity of employers and employment agencies to invent methods of evasion; discrimination is as prevalent as ever. But if the federal government is given the power of a "fair employment practices" act, we can expect an army or corruptible police swarming all over our national industry. That is not freedom.
As long as anything is left of our tradition of States’ Rights, the danger of absolutism in this country can be avoided. In fact, it is that tradition that must be depended upon in any effort to repeal the Sixteenth Amendment.
» Este texto faz parte do capítulo IX (Competition in Government) do livro que dá o título a este post, escrito por Frak Chodorov (lista de alguns de seus artigos).
20/08/2007
Sociedades sem Estado: A antiga Irlanda
 Libertários freqüentemente têm sonhado em escapar da tirania do Estado; alguns quiseram fazer isso buscando refúgio em terras distantes e desabitadas onde pudessem viver em isolamento solitário ou em pequenas comunidades mantidas juntas pelo princípio da associação voluntária e do auxílio mútuo. Mas os historiadores sabem que esses experimentos raramente sobrevivem em paz por muito tempo; cedo ou tarde o Estado os encontra com sua violência instintiva, sua mania de coerção em lugar de persuasão, com sua compulsão em lugar de voluntarismo. Esse foi o destino dos mórmons e menonitas, das testemunhas de Jeová, dos amish, entre outros.Como os povos explorados ao redor do mundo estão começando a perceber, o verdadeiro inimigo está entre eles mesmos — a violência coercitiva do Estado — e precisa ser combatido constantemente no núcleo de seus domínios. Todo libertário precisa lutar contra o estado de onde está: em sua casa, no lugar de seus negócios, nas escolas, na comunidade e no mundo. Sua tarefa é resistir ao Estado e desmantelá-lo por quaisquer meios que estejam em mãos.
Libertários freqüentemente têm sonhado em escapar da tirania do Estado; alguns quiseram fazer isso buscando refúgio em terras distantes e desabitadas onde pudessem viver em isolamento solitário ou em pequenas comunidades mantidas juntas pelo princípio da associação voluntária e do auxílio mútuo. Mas os historiadores sabem que esses experimentos raramente sobrevivem em paz por muito tempo; cedo ou tarde o Estado os encontra com sua violência instintiva, sua mania de coerção em lugar de persuasão, com sua compulsão em lugar de voluntarismo. Esse foi o destino dos mórmons e menonitas, das testemunhas de Jeová, dos amish, entre outros.Como os povos explorados ao redor do mundo estão começando a perceber, o verdadeiro inimigo está entre eles mesmos — a violência coercitiva do Estado — e precisa ser combatido constantemente no núcleo de seus domínios. Todo libertário precisa lutar contra o estado de onde está: em sua casa, no lugar de seus negócios, nas escolas, na comunidade e no mundo. Sua tarefa é resistir ao Estado e desmantelá-lo por quaisquer meios que estejam em mãos.Historicamente, os Estados não se desmantelam por vontade própria ou facilmente. Embora eles possam se desintegrar em impressionante velocidade, como na Rússia em 1917 ou na França em 1968, quase sempre novos Estados surgem para tomar seus lugares. O motivo disso, eu acredito, é que os homens não conseguem acreditar na viabilidade de uma sociedade na qual uma perfeita liberdade, segurança de vida e propriedade, e lei e justiça pode ser conseguida sem a violência coercitiva do Estado. Os homens estiveram por tanto tempo escravizados pelo Estado que não conseguem se livrar da mentalidade estatista. O mito do Estado como uma parte necessária da realidade social constitui o maior obstáculo à obtenção de uma sociedade libertária voluntarista.
Contudo, o historiador, se ele escolher observar e reportar suas descobertas, sabe que muitas sociedades funcionaram com sucesso sem a existência do Estado, de seu aparato coercitivo e monopólio da violência organizada. É o meu propósito aqui apresentar um exemplo de tal sociedade, uma que existiu por mais de mil anos de história documentada, e que terminou somente por conta de maciços esforços militares de um Estado vizinho mais populoso, rico e agressivo. Eu descreverei para vocês a sociedade milenar da Irlanda celta — destruída depois de uma batalha de seis séculos contra o Estado inglês no curso das vitórias militares, dos confiscos e das políticas genocidas de sucessivos governos ingleses no século XVII.
Os historiadores ingleses normalmente justificaram o destino da Irlanda caracterizando sua população como incivilizada e bárbara, e sua sociedade como anárquica. Christopher Dawson é bastante claro neste ponto: "A essência da sociedade bárbara é que ela depende do princípio do parentesco em vez do princípio da cidadania ou do da absoluta autoridade do Estado". A Irlanda certamente dependia de relacionamentos de parentesco em sua coesão social e também nunca aproveitou o benefício dúbio de uma cidadania conferida pela absoluta autoridade do Estado.
O distinto historiador anglo-irlandês da invasão e colonização normanda da Irlanda, G. H. Orpen, disse muito francamente que a sociedade da Irlanda celta era "anárquica" no sentido de que não tinha nenhuma das instituições políticas ou costumes oficiais de uma "sociedade civilizada". Hitoriadores nacionalistas como Eoin MacNeill, que participaram ativamente da derrubada do domínio inglês no período de 1916 a 1922, consideravam essas opiniões apenas como pretextos dos conquistadores ingleses e insistiam que a antiga Irlanda tinha tanto Estado quanto precisavam.
Uma geração mais jovem de historiadores irlandeses, menos influenciada pela grande luta pela libertação nacional que MacNeill, candidamente admitiu o fato embaraçoso: a sociedade irlandesa era de fato anárquica. Como D. A. Binchy, o maior expert irlandês contemporâneo no direito irlandês antigo, escreveu: "não havia legislatura, conselhos municipais, polícia ou execução pública da lei" e "o Estado existia somente de forma embrionária". "Não havia traço de justiça administrada pelo Estado".Mas se a Irlanda era essencialmente uma sociedade anárquica (ou libertária), como a lei e a ordem eram mantidas? Como a justiça era assegurada? Não havia uma guerra incessante e enorme criminalidade?Para responder a última dessas perguntas primeiro — é claro que existiam guerras e crime. Já existiu alguma vez alguma sociedade estatista ou não que não tivesse guerras e crime? Mas as guerras irlandesas nunca eram na escala conhecida dos outros povos europeus "civilizados". Sem o aparato coercitivo do Estado que pode mobilizar grandes quantidades de armas e homens através da taxação e do recrutamento obrigatório, os irlandeses eram incapazes de sustentar uma força militar de larga escala por muito tempo. As guerras irlandesas, até a última fase da conquista inglesa nos séculos XVI e XVII, eram apenas minúsculos conflitos pelos padrões europeus. A historiadora irlandesa Kathleen Hughes notou que um dos motivos pelos quais a conquista inglesa, começada no século XII com Henrique II e terminada só no fim do século XVII com Guilherme III, demorou tanto para se consumar foi a falta de um Estado organizado na Irlanda celta. Um povo não habituado a uma concepção estatista de autoridade é incapaz de considerar uma derrota numa guerra como nada mais que uma limitação temporária de sua liberdade. A submissão ao inimigo é vista como nada mais que um expediente necessário e temporário para preservar a própria vida até a oportunidade para uma revolta e reconquista da liberdade se apresentar. Os ingleses, é claro, consideravam os irlandeses notórios por suas descrenças (eles repetidamente repudiavam os juramentos de submissão e obediência aos conquistadores ingleses); eles eram repetidamente caracterizados por comentadores ingleses como rebeldes naturais, incorrigíveis, bárbaros, selvagens que se recusavam a se submeter ao tipo de lei e ordem oferecido pelo Estado inglês. Os irlandeses, livres da mentalidade de escravos de pessoas acostumadas à tirania do estado, simplesmente se recusavam a abrir mão de suas liberdades e modos libertários.Examinemos agora mais de perto a sociedade e as instituições sociais irlandesas.A instituição política básica da antiga Irlanda era o Tuath. A associação era restrita aos Homens Livres que possuíam terras, membros de profissões reconhecidamente instruídas — poetas, videntes, médicos, juristas ou clérigos — ou habilidosos artesãos, moleiros, ferreiros, arquitetos, entalhadores, construtores navais, pescadores, músicos, cocheiros etc. Excluídos estavam os homens sem propriedade, escravos, estrangeiros, foras-da-lei e pequenos artesãos. As ações políticas eram tomadas numa assembléia anual de todos os Homens Livres; os reis eram eleitos ou depostos, as guerras declaradas e tratados de paz acordados, questões de interesse comum discutidas e políticas decididas. A assembléia era o povo soberano em ação.
Os membros do tuath não eram necessariamente ligados por laços familiares, exceto incidentalmente. O tuath não era uma tribo ou clã no sentido de se basear num parentesco comum — real ou imaginário. Parentes freqüentemente viviam e agiam em diferentes Tuatha e os membros individuais podiam e freqüentemente de fato secediam e se juntavam a outro tuath. Além disso, dois ou mais tuatha podiam e de fato se fundiam. O tuath é, então, um corpo de pessoas voluntariamente unidas para propósitos socialmente benéficos e a soma total das propriedades de terras de seus membros constituíam suas dimensões territoriais. Historicamente, houveram de 80 a mais ou menos 100 tuatha em diferentes períodos da história irlandesa, e poucos eram maiores que talvez de um quarto a um terço da moderna Irlanda. É improvável que a população excedesse 25.000 pessoas e normalmente era menor.
O chefe do tuath era o rei. A natureza do reinado na Irlanda precisa ser procurada em tempos pré-cristãos. Como é comumente o caso em povos antigos, a unidade social básica — aqui o tuath — era essencialmente uma associação cúltica. O culto é a base para a cooperação social, política e militar entre o corpo de cultuadores. O rei é primeira e principalmente o alto sacerdote do culto; ele, dessa forma, preside a assembléia de cultuadores e age por eles tanto em funções seculares quanto religiosas. Os reis irlandeses eram claramente os sacerdotes-chefe do tuath; suas inaugurações de cerimônias, os locais das assembléias e as tradições do povo confirmam esse fato. A conversão ao cristianismo modificou as funções religiosas dos reis para se encaixar nos requerimentos das práticas cristãs, mas não as eliminou totalmente.Como era comum, o reinado era hereditário, como os sacerdócios pagãos. O rei era eleito pelo tuath a partir de um grupo de parentesco real (o derbfine) consistido de todos os homens das três gerações que descendessem de um ancestral comum que fosse um rei. O grupo real normalmente nomeava um de seus membros, mas se uma disputa surgisse e não pudesse ser resolvida, os reis eram eleitos em coligação. Reis que desagradassem o tuath freqüentemente eram depostos, e aqueles que fossem mutilados de qualquer forma tinham que abdicar — resultado de um tabu religioso, um dos muitos atrelados à função do rei.
Até que ponto o rei era representante de um Estado? Os reis irlandeses tinham apenas duas funções de caráter similar ao do Estado: eles tinham que presidir a assembléia do tuath e representá-lo em negociações com outros tuatha; e tinham que liderar o tuath nas batalhas quando ele entrava em guerra. Ele claramente não era um Soberano e não exercia nenhum direito de administrar a justiça sobre os membros do tuath. Quando ele mesmo era uma parte num processo, ele submetia seu caso a um árbitro judicial independente. E ele não legislava.Como então a lei e a ordem eram mantidas?Primeiro, a lei em si era baseada nos costumes imemoriais passados à frente oralmente através de uma classe de juristas profissionais conhecidos como filid. Esses juristas adicionavam algum novo aspecto à lei básica de tempos em tempos para fazê-la responder às necessidades dos tempos; várias escolas de jurisprudência existiam, os juristas profissionais eram consultados pelas partes das disputas para fornecerem conselhos quanto a que lei valia em casos particulares e esses mesmos homens freqüentemente agiam como árbitros entre as partes em disputa. Eles permaneciam sempre como pessoas privadas, não oficiais públicos; seus trabalhos dependiam do conhecimento que tivessem do direito e de suas reputações como juristas. Eles são os únicos "juízes" que a Irlanda celta conhecia; suas jurisprudências eram a única lei irlandesa, de escopo nacional, e completamente dissociada dos tuatha, dos reis e de seus respectivos desejos.Como essa lei dos filid era executada? A lei era executada pela ação dos indivíduos privados aliados aos réus e acusadores através de um sistema de fiação. Os homens eram ligados uns aos outros através de vários relacionamentos individuais em que eram obrigados a se certificar de que os prejudicados seriam restituídos, os débitos pagos, os julgamentos honrados e a lei executada.O sistema de fiação era tão bem desenvolvido no direito irlandês que não havia necessidade de um sistema estatal de justiça.
Havia três diferentes tipos de certificação: num deles o fiador garantia com sua própria propriedade o pagamento de um débito o qual o devedor não pagou ou não poderia pagar; noutro tipo, o fiador assegurava com sua pessoa que o devedor não iria à falência; se o devedor fosse à falência, o fiador teria que se entregar como refém do credor; ele então teria que negociar um acordo com seu apreensor. Numa terceira instância, um homem poderia jurar se juntar ao credor na execução do julgamento contra o devedor se ele não pagasse toda a quantia devida; neste caso, o devedor era responsável por danos duplos, uma vez que ele tinha que pagar o credor original e também compensar o fiador por comprometer sua honra.Quase toda transação legal concebível funcionava através da fiação. Como o direito irlandês não distinguia entre ofensas de dano [N.T.: "tort offences"] e criminais, todos os criminosos eram considerados devedores — devendo restituição e compensação a suas vítimas — que assim se tornavam seus credores. A vítima juntava seus fiadores e apreendiam o criminoso ou proclamavam publicamente o processo e exigiam que o criminoso se submetesse à adjudicação de suas diferenças. Neste ponto o criminoso podia mandar seus fiadores negociarem uma resolução direta ou concordar em mandar o caso para um dos filid.
O direito irlandês reconhecia o provável fato de que um homem pobre pudesse ter dificuldade em fazer um homem rico enviar uma disputa para negociação ou arbitragem por um filid. Ele assim previa um tipo especial de procedimento. De acordo com ele, o querelante era obrigado a ir até o portão da casa do acusado e sentar lá do nascer até o pôr-do-sol, jejuando durante todo o tempo; o acusado deveria, da mesma forma, manter um jejum ou enviar o caso para adjudicação. Se ele quebrasse seu jejum ou se recusasse a enviar o caso para a adjudicação depois de três dias, era declarado que ele havia perdido sua honra dentro da comunidade e não poderia exigir a execução de nenhuma reclamação sua. Nas palavras do código legal: "Aquele que não se comprometer ao jejum é um fugitivo de todos. Aquele que desconsidera todas as coisas não é recompensado nem por Deus nem pelos homens.". Assim a sanção final era ser considerado um fora-da-lei pela comunidade — significava perder o próprio status legal. Esse costume, que invoca os sentimentos morais da comunidade para assegurar a justiça, foi usado durante a Guerra Anglo-Irlandesa de 1916 a 1922, quando os prisioneiros irlandeses em custódia dos ingleses costumavam fazer greves de fome para ganhar a simpatia do público para sua causa. (Aqueles que se lembraram da tática de Gandhi em sua batalha contra o imperialismo britânico não devem se surpreender ao saber que a antiga lei hindu tem um procedimento de jejum assim como a lei irlandesa).
A natureza essencialmente libertária da sociedade irlandesa pode também ser vista no fato de que os nativos irlandeses nunca cunharam moedas. Os historiadores têm geralmente interpretado esse fenômeno como outro sinal do barbarismo da sociedade irlandesa e de seu atraso econômico e tecnológico. De fato, tendo contato com os estados celtas da antiga Grã-Bretanha e Gales, e mais tarde com os povos romanos e anglo-saxões da Grã-Bretanha e com os príncipes vikings que estabeleceram colônias de comércio em volta das costas da Irlanda, todos os quais cunhavam moedas de prata em seus domínios, é estranho que os irlandeses nunca tenham seguido essa fórmula. Eles certamente tiveram acesso tanto ao ouro quanto à prata de fontes naturais; eles viajaram ao exterior e sabiam que seus vizinhos utilizavam moeda; e ferreiros capazes de fazer obras maravilhosas como o Broche Tara ou o Cálice Ardagh certamente eram capazes de cunhar moedas.Por que então eles não fizeram isso? Os libertários podem ver um motivo imediatamente. A cunhagem normalmente é feita por monopolistas do Estado, que, através de leis de obrigatoriedade, forçam os vendedores a aceitar a moeda estatal que é sempre supervalorizada em relação ao seu valor em lingote. Somente o poder coercitivo do Estado pode sustentar o uso de uma moeda depreciada num livre mercado que prefere comerciar os lingotes em seu valor natural em vez de no nível imposto pelo Estado.Assim, a peculiar ausência de moeda entre os irlandeses mil anos depois de sua introdução na Grã-Bretanha é outro testemunho da ausência do Estado na sociedade irlandesa.
Sob o impacto da invasão normanda da Irlanda no século XII, as instituições e costumes irlandeses foram consideravelmente minados na tentativa de se adaptar com um sistema social e político tão alienígena quanto o que era representado pelo estatismo dos imperialistas ingleses. Mas, no fim, os dois sistemas eram incompatíveis. Sob a dinastia Tudor com suas fortes tendências absolutistas, uma sistemática, intensa e por fim bem sucedida política de conquista e genocídio cultural foi direcionada contra os nativos irlandeses. As rebeliões, conquistas e confiscos do século XVII terminaram a destruição da velha sociedade anárquica. Contudo, certamente o espírito da liberdade permaneceu nos corações dos camponeses irlandeses para emergir de novo e de novo até os dias presentes quando quer que a opressão dos estrangeiros se tornasse grande demais. A sombra do passado é sempre muito real e presente na Irlanda, e a memória da liberdade nunca desapareceu das mentes das pessoas.
» Joseph R. Peden foi um autor libertário e escritor regular do Libertarian Forum. [Via LibertyZine]
Nota: Historiadores que escrevem sobre sociedades sem estado tem uma tendência de usar a terminologia e as concepções "estatistas" na descrição de idéias e instituições essencialmente anárquicas. Historiadores irlandeses são particularmente culpados disso. Menos afetados são os trabalhos de Myles Dillion, The Celtic Realms (Londres, 1967) e Early Irish Society (Dublin, 1954); também D. A. Binchy, Anglo-saxon and Irish Kingship (Londres, 1970); e Kathleen Hughes, em sua introdução a A History of Medieval Ireland (Londres, 1968), por A. J. Otway Ruthven.
19/08/2007
The Housing Bubble and the Credit Crunch
 The turmoil in the credit markets now emanating from the collapse of the housing bubble can be understood in the light of the theory of the business cycle developed by Ludwig von Mises and F.A. Hayek. These authors showed that credit expansion distorts the pattern of spending and capital investment in the economic system. This in turn leads to the large scale loss of capital and thereby sets the stage for a subsequent credit contraction, which is precisely what is beginning to happen now. (For the benefit of readers unfamiliar with the expression, credit expansion is the creation of new and additional money by the banking system and its lending out at artificially low interest rates and/or to borrowers of low credit worthiness.)
The turmoil in the credit markets now emanating from the collapse of the housing bubble can be understood in the light of the theory of the business cycle developed by Ludwig von Mises and F.A. Hayek. These authors showed that credit expansion distorts the pattern of spending and capital investment in the economic system. This in turn leads to the large scale loss of capital and thereby sets the stage for a subsequent credit contraction, which is precisely what is beginning to happen now. (For the benefit of readers unfamiliar with the expression, credit expansion is the creation of new and additional money by the banking system and its lending out at artificially low interest rates and/or to borrowers of low credit worthiness.)The genesis of the present problem goes back to the bursting of the stock-market bubble in the early years of this decade. In an effort to avoid its deflationary consequences, the bursting of the stock market bubble was followed by successive Federal Reserve cuts in interest rates, all the way down to little more than 1 percent by the end of 2003.
These cuts in interest rates were accomplished by means of repeated injections of new and additional bank reserves. The essential interest rate in question was the so-called Federal Funds rate. This is the interest rate that the banks that are members of the Federal Reserve System charge or pay in the lending and borrowing of the monetary reserves that they are obliged to hold against their outstanding checking deposits.
The continuing inflow of new and additional reserves allowed the banking system to create new and additional checking deposits for the benefit of borrowers. The new and additional deposits were created to a multiple of ten or more times the new and additional reserves and made possible the granting of new and additional loans on a correspondingly large scale. The sharp decline in interest rates that took place encouraged the making of mortgage loans in particular. The reason for this was the steep decline in monthly mortgage payments that results from a substantial decline in interest rates. The new and additional checking deposits were money that was created out of thin air and which was lent against mortgages to borrowers of poorer and poorer credit.So long as the new and additional money kept pouring into the housing market at an accelerating rate, home prices rose and most people seemed to prosper.But starting in 2004, and continuing all through 2005 and the first half of 2006, in fear of the inflationary consequences of its policy, the Federal Reserve began gradually to raise interest rates. It did so in order to be able to reduce its creation of new and additional reserves for the banking system.
Once this policy succeeded to the point that the expansion of deposit credit entering the housing market finally stopped accelerating, the basis for a continuing rise in home prices was removed. For it meant a leveling off in the demand for housing. To the extent that the credit expansion actually fell, the demand for houses had to drop. This was because a major component of the demand for houses had come to be precisely the funds provided by credit expansion. A decline in that component constituted an equivalent decline in the overall demand for houses. The decline in the demand for houses, of course, was in turn followed by a decline in the price of houses Housing prices also had to fall simply because of the unloading of homes purchased in anticipation of continually rising prices, once it became clear that that anticipation was mistaken.This drop in the demand for and price of houses has now revealed a mass of mortgage debt that is unpayable. It has also revealed a corresponding mass of malinvested, wasted, capital: the capital used to make the unpayable mortgage loans.The loss of this vast amount of capital serves to undermine the rest of the economic system.
The banks and other lenders who have made these loans are now unable to continue their lending operations on the previous scale, and in some cases, on any scale whatever. To the extent that they are not repaid by their borrowers, they lack funds with which to make or renew loans themselves. To continue in operation, not only can they no longer lend to the same extent as before, but in many cases they themselves need to borrow, in order to meet financial commitments made previously and now coming due.Thus, what is present is both a reduction in the supply of loanable funds and an increase in the demand for loanable funds, a situation that is aptly described by the expression “credit crunch.”The phenomenon of the credit crunch is reinforced by the fact that credit expansion, just like any other increase in the quantity of money, serves to raise wage rates and the prices of raw materials. It thereby reduces the buying power of any given amount of capital funds. This too leads to the outcome of a credit crunch as soon as the spigot of new and additional credit expansion is turned off. This is because firms now need more funds than anticipated to complete their projects and thus must borrow more and/or lend less in order to secure those funds. (This, incidentally, is the present situation in the construction of power plants and other infrastructure, where costs have risen dramatically in the last few years, with the result that correspondingly larger sums of capital are now required to carry out the same projects.) In addition, the decline in the stock and bond markets that results after the prop of credit expansion is withdrawn signifies a reduction in the assets available to fund business activities and thus serves to intensify the credit crunch.
The situation today is essentially similar to all previous episodes of the boom-bust business cycle launched by credit expansion. The only difference is that in this case, the credit expansion fed an expanded demand for housing and, at the same time, most of the additional capital funds created by the credit expansion were invested in housing. Now that the demand for housing has fallen, as the result of the slowdown of the credit expansion, much of the additional capital funds invested in housing has turned out to be malinvestments. In most previous instances, credit expansion fed an additional demand for capital goods, notably plant and equipment, and most of the additional capital funds created by credit expansion were invested in the production of capital goods. When the credit expansion slowed, the demand for capital goods fell and much of the additional capital funds invested in their production turned out to be malinvestments.In all instances of credit expansion what is present is the introduction into the economic system of a mass of capital funds that so long as it is present has the appearance of real wealth and capital and provides the basis for sharply increased buying and selling and a corresponding rise in asset prices. Unfortunately, once the credit expansion that creates these capital funds slows, the basis of the profitability of the funds previously created by the credit expansion is withdrawn. This is because those funds are invested in lines dependent for their profitability on a demand that only the continuation of the credit expansion can provide.In the aftermath of credit expansion, today no less than in the past, the economic system is primed for a veritable implosion of credit, money, and spending. The mass of capital funds put into the economic system by credit expansion quickly begins evaporating (the hedge funds of Bear Stearns are an excellent recent example), with the potential to wipe out further vast amounts of capital funds.As the consequence of a credit crunch, there are firms with liabilities coming due that are simply unable to meet them. They cannot renew the loans they have taken out nor replace them. These firms become insolvent and go bankrupt. Attempts to avoid the plight of such firms can easily precipitate a process of financial contraction and deflation.
This is because the specter of being unable to repay debt brings about a rise in the demand for money for holding. Firms need to raise cash in order to have the funds available to repay debts coming due. They can no longer count on easily and profitably obtaining these funds through borrowing, as they could under credit expansion, or, indeed, obtaining them at all through borrowing. Nor can they readily and profitably obtain funds by liquidating the securities or other assets that they hold. Thus, in addition to whatever funds they may still be able to raise in such ways, they must attempt to accumulate funds by reducing their expenditures out of their receipts. This reduction in expenditures, however, serves to reduce sales revenues and profits in the economic system and thus further reduces the ability to repay debt.To the extent that anywhere along the line, the process of bankruptcies results in bank failures, the quantity of money in the economic system is actually reduced, for the checking deposits of failed banks lose the character of money and assume that of junk bonds, which no one will accept in payment for goods or services.Declines in the quantity of money, and in the spending that depends on the part of the money supply that has been lost, results in more bankruptcies and bank failures, and still more declines in the quantity of money, as well as in further increases in the demand for money for holding. Such was the record of The Great Depression of 1929-1933.
Given the unlimited powers of money creation that the Federal Reserve has today, it is doubtful that any significant actual deflation of the money supply will take place. The same is true of financial contraction caused by an increase in the demand for money for holding. In confirmation of this, The New York Times reports, in an online article dated August 11, 2007, that “The Federal Reserve, trying to calm turmoil on Wall Street, announced today that it will pump as much money as needed into the financial system to help overcome the ill effects of a spreading credit crunch.… The Fed pushed $38 billion in temporary reserves into the system this morning, on top of a similar move [$24 billion] the day before.” In addition, the print edition of The Times, dated a day earlier, reported in its lead front-page story that “the European Central Bank in Frankfurt lent more than $130 billion overnight at a rate of 4 percent to tamp down a surge in the rates banks charge each other for very short-term loans.”Thus the likely outcome will be a future surge in spending and in prices of all kinds based on an expansion of the money supply of sufficient magnitude to overcome even the very powerful impetus to contraction and deflation that has come about as the result of the bursting of the housing bubble.Another outcome will almost certainly be the enactment of still more laws and regulations concerning financial activity. Oblivious to the essential role of credit expansion and of the government’s role in the existence of credit expansion, the politicians and the media are already attempting to blame the present debacle on whatever aspects of economic and financial activity still remain free of the government’s control.
It probably is the case that at this point the only thing that can prevent the emergence of a full-blown major depression is the creation of yet still more money. But that new and additional money does not necessarily have to be in the form of paper and checkbook money. An alternative would be to declare gold and silver coin and bullion legal tender for the payment of debts denominated in paper dollars. There is no limit to the amount of debt-paying power in terms of paper dollars that gold and silver can have. It depends only on the number of dollars per ounce.To be sure, this is an extremely radical suggestion, but something along these lines will someday be necessary if the world is ever to get off the paper-money merry-go-round of the unending ups and downs of boom and bust, accompanied since 1933 by the continuing loss of the buying power of money.
» George Reisman é o autor do livro Capitalism: A Treatise on Economics (Ottawa, Illinois: Jameson Books, 1996)
arquivo
-
▼
2007
(127)
-
▼
agosto
(43)
- Escritos de Bastiat
- The State as an Organization
- Smashing the State for fun and profit since 1969
- Redemption songs
- Sweet anarchy
- My escape from slavery, Frederick Douglass.
- Wind Of Change
- Albert Jay Nock, forgotten man of the right
- Liberalismo, Progressismo, Colectivismo.
- Sobre Fazer Algo Quanto a Isso
- If You Could Read My Mind
- Socialismo Voluntário e Anarco-Capitalismo
- Duas visões, uma linguagem.
- Entrevista com Murray Rothbard (Excerto)
- Da imortalidade das idéias
- Um pouco de Friedman
- Can You Please Crawl Out Your
- Contra quem esta guerra realmente é?
- Marcas e Patentes
- Liberais e liberalismo
- Copyrights como contratos
- Andrew Jackson às avessas
- Left and Right: 40 anos depois
- The Income Tax: Root of All Evil
- Faça o que eu digo, mas...
- Eve of Destruction
- Sociedades sem Estado: A antiga Irlanda
- A melhor explicação sobre o nascimento do Estado
- Anti-Interventionism in american politics, por J. ...
- The Housing Bubble and the Credit Crunch
- Lados de uma mesma moeda
- A ilusão da inflação
- Dissidente entre os dissidentes
- Lincoln and the triumph of mercantilism in America
- As raízes éticas do anarquismo de mercado
- The case for Gold, de Ron Paul e Lewis Lehrman
- Masters of War, Bob Dylan
- Obvio? Sim, mas há que apóie.
- Libre Mercado, por Murray Rothbard
- Candidates Google: Ron Paul
- For What Its Worth
- É viável o anarco-capitalismo?
- The Market for Liberty
-
▼
agosto
(43)